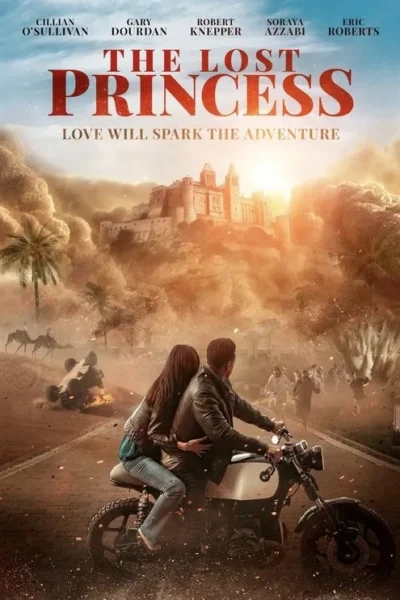O tempo, ah, o tempo… Ele tem um jeito peculiar de filtrar as obras de arte, não é mesmo? Algumas se desfazem como areia entre os dedos, outras fincam raízes e crescem, suas sombras se alongando sobre nós anos depois. É por isso que, hoje, em setembro de 2025, ainda me pego pensando em A Bruxa, um filme que, desde seu lançamento em 2016, nunca deixou de me assombrar. Não falo de sustos baratos, ou do terror que se esquece ao acender as luzes. Falo daquele tipo de medo que se instala na medula, que te faz questionar o que é real e o que reside nos recessos mais escuros da nossa própria fé e psique.
Quando assisti pela primeira vez, algo me disse que não estava diante de um mero filme de terror. Robert Eggers, em sua estreia na direção e roteiro, parecia ter desenterrado algo primordial. Ele nos transporta para a Nova Inglaterra do século XVII, um lugar onde a linha entre a devoção religiosa e a superstição era tão tênue quanto a névoa matinal sobre o bosque. A premissa é simples, quase bíblica: William (Ralph Ineson) e Katherine (Kate Dickie), fervorosos puritanos, são expulsos de sua comunidade por uma divergência de fé. Com seus cinco filhos, eles se refugiam em uma clareira isolada, à beira de uma floresta tão densa que parece engolir a luz. É o isolamento, meu caro leitor, que se torna o verdadeiro monstro aqui. A escassez de comida corrói, as orações se tornam mais um desespero do que uma certeza, e então, o impensável: o bebê recém-nascido desaparece.
E é aí que A Bruxa começa a tecer sua teia de pavor. Não espere monstros saltitantes ou gritos histéricos a cada cinco minutos. Eggers, com uma paciência quase sádica, constrói uma atmosfera de foreboding tão intensa que você sente o ar rarear. Cada sussurro do vento, cada rangido da madeira da cabana, cada olhar desconfiado entre os membros da família se torna um prenúncio de desgraça. A atuação é visceral. Ralph Ineson, com aquela voz grave que parece saída das profundezas da terra, encarna um William que tenta manter a fé e a dignidade enquanto tudo ao seu redor desmorona. Sua Katherine, interpretada por Kate Dickie, é uma mãe em luto, cuja dor se transmuta em uma raiva fria e acusações veladas que perfuram a já frágil unidade familiar.
Mas é em Thomasin, vivida por uma então desconhecida Anya Taylor-Joy, que o coração pulsante do filme reside. Thomasin, no limiar da adolescência, carrega o peso de ser a mais velha, de ser vista como um fardo, uma tentação. Ela é a personificação da transição, da dúvida. Anya nos entrega uma performance que, mesmo anos depois, ainda me deixa boquiaberto. Seus olhos, ora repletos de inocência, ora de um pavor indizível, capturam a essência de uma jovem mulher em um mundo que a quer submissa, mas que ao mesmo tempo parece querer consumi-la. As palavras-chave “witch”, “possession”, “false accusations” e “witchcraft” ganham vida através de sua jornada, onde a inocência é corroída pela suspeita e pelo terror.
| Atributo | Detalhe |
|---|---|
| Diretor | Robert Eggers |
| Roteirista | Robert Eggers |
| Produtores | Daniel Bekerman, Lars Knudsen, Jodi Redmond, Rodrigo Teixeira, Jay Van Hoy |
| Elenco Principal | Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie, Harvey Scrimshaw, Ellie Grainger |
| Gênero | Terror, Fantasia, Drama |
| Ano de Lançamento | 2016 |
| Produtoras | Very Special Projects, Parts & Labor, RT Features, Rooks Nest Entertainment, Maiden Voyage Pictures, Pulse Films, Scythia Films, Code Red Productions, Mott Street Pictures |
A genialidade de Eggers não para no elenco. O diálogo, embora desafiador para alguns por seu “oldé Englis” autêntico, é uma escolha brilhante que nos mergulha ainda mais na época. Não é apenas uma camada superficial de época; é a linguagem da fé, da culpa, do medo que permeava cada conversa, cada sermão. E o que dizer do uso da luz natural, da câmera que se move lentamente, revelando os detalhes mais ínfimos daquele ambiente rural e opressor? As sombras não são apenas ausência de luz; são a presença do mal, se espreitando no perímetro da propriedade, no olhar de um bode (ah, Black Phillip, o bode, uma entidade por si só!), nas crenças incrustadas naquelas mentes puritanas.
A Bruxa é um exemplar primoroso do que chamamos de “folk horror”, um subgênero que se alimenta do medo ancestral, das lendas que nascem da terra, do isolamento e das comunidades que se voltam contra si mesmas. Aqui, a bruxa não é apenas uma figura folclórica; ela é a personificação dos medos da família, dos pecados não confessados, da natureza selvagem que se recusa a ser domada. O filme nos faz perguntar: será que a bruxa realmente existe, ou são as próprias crenças e o desespero que manifestam a escuridão? A ambiguidade é a sua maior força, deixando o espectador em um estado de inquietude que perdura muito depois dos créditos rolarem.
Essa família, que busca manter sua fé cristã diante da adversidade, é lentamente desfeita. O laço familiar é testado, rasgado por uma força maligna que, como um vírus, se espalha silenciosamente. Caleb (Harvey Scrimshaw), o filho do meio, é um garoto que se debate entre a obediência e a tentação, uma vítima da inocência pervertida. E as crianças mais novas, Mercy (Ellie Grainger) e Jonas, são figuras quase enigmáticas, cujas interações com o bode e com a própria floresta são de arrepiar.
É uma obra que exige de você. Ela não entrega respostas fáceis, nem se presta a ser um mero entretenimento passageiro. A Bruxa é uma experiência. É sentir o frio cortante da Nova Inglaterra do século XVII, é sentir o cheiro da terra úmida e do feno, é ouvir as orações desesperadas e os gritos de pavor. É sobre a luta entre a fé e a dúvida, entre o homem e a natureza, entre a civilização e a selvageria. E, no final, é sobre o que acontece quando a gente se permite olhar para o abismo, e o abismo olha de volta. E acredite, essa visão não te abandona.