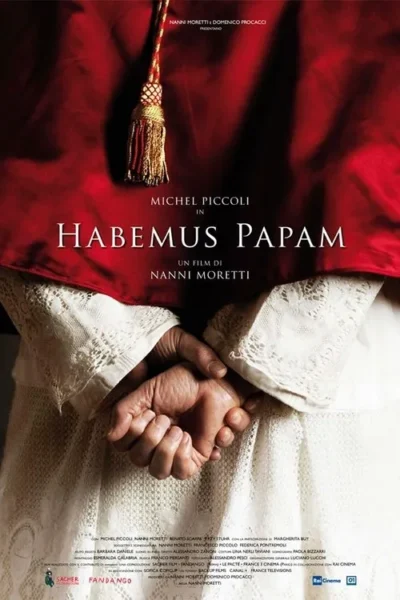Ah, Splinter Cell: Deathwatch. Sabe, desde os tempos em que a gente passava horas, a tela do monitor o único farol na escuridão do quarto, tentando a perfeição de uma invasão sem um único alarme nos jogos originais, eu sempre me perguntei: como seria ver Sam Fisher em outra mídia, com a liberdade que a animação pode dar, e ainda assim manter aquela tensão visceral do silêncio, da sombra, da morte que espreita? É essa pergunta que me trouxe aqui hoje, com o ar ainda vibrante da experiência de ter mergulhado de cabeça nessa série que estreou este ano, lá por 2025. E olha, o que a Ubisoft Film & Television, junto com a FOST, Æsten e Story Kitchen nos entregaram é algo digno de uma análise que vai além do “gostei” ou “não gostei”. É sobre a alma do espião.
Quando Derek Kolstad, o criador por trás de John Wick, foi anunciado como o cérebro por trás de Deathwatch, confesso que um arrepio subiu pela espinha. John Wick é sinônimo de ação explosiva, balé de tiros, brutalidade à flor da pele. Splinter Cell, por outro lado, sempre foi sobre o silêncio antes da tempestade, a precisão cirúrgica de um fantasma. A beleza estava na ausência de confronto, na arte de se tornar invisível. A grande dúvida era: ele conseguiria conciliar essas duas filosofias, ou iríamos ver um Sam Fisher com menos camuflagem e mais tiroteio? A resposta, surpreendentemente, reside em um equilíbrio delicado, quase acrobático, que nos faz prender a respiração a cada episódio.
Liev Schreiber, prestando sua voz imponente a Sam Fisher, é uma escolha que, ao meu ver, eleva o personagem a um novo patamar de lenda. Sua voz não é apenas grave, ela carrega o peso de anos de segredos, de escolhas impossíveis, de uma solidão que poucos conseguem sequer imaginar. É a voz de alguém que já viu o inferno e voltou, não mais uma vez, mas incontáveis. Você sente a experiência, a fadiga, mas também a centelha inextinguível de um dever que nunca termina. Sam, como a sinopse bem diz, é um mistério e uma lenda. E Schreiber não apenas interpreta essa lenda; ele a personifica com cada inflexão, com cada suspiro abafado.
A grande sacada, e onde a série realmente brilha, é na introdução de Zinnia McKenna, dublada com uma vitalidade palpável por Kirby Howell-Baptiste. Zinnia não é apenas uma nova recruta; ela é o espelho onde Sam se vê e, talvez, se confronta. Ela é o “nós” na série, o ponto de entrada para o espectador, a alma mais nova, ainda não completamente calejada pelas sombras. A dinâmica entre os dois é um espetáculo à parte. É a juventude impetuosa e a sabedoria árdua colidindo, moldando-se mutuamente. Sam precisa ajudá-la, sim, mas você sente que Zinnia também o ajuda, talvez a se reconectar com algo mais humano, algo que a vida de espião tende a corroer. Não é um mentor e pupila num sentido previsível; é uma dança complexa de confiança, desconfiança e sobrevivência mútua, onde o silêncio deles é tão eloquente quanto qualquer diálogo.
| Atributo | Detalhe |
|---|---|
| Criador | Derek Kolstad |
| Elenco Principal | Liev Schreiber, Kirby Howell-Baptiste |
| Gênero | Animação, Action & Adventure |
| Ano de Lançamento | 2025 |
| Produtoras | Ubisoft Film & Television, FOST, Æsten, Story Kitchen |
A animação, um dos gêneros da série, é simplesmente soberba. Não se trata de um desenho cartunesco, mas de um estilo que permite nuances na iluminação e na expressão que o live-action teria dificuldades em replicar sem orçamentos estratosféricos. As sombras não são meramente áreas escuras; elas vivem, pulsam, tornam-se personagens por si mesmas, engolindo e cuspindo Sam e Zinnia com uma coreografia visual impressionante. Você quase pode sentir o frio da noite, o cheiro de ozônio depois de uma tempestade, a tensão de um ambiente onde cada barulho é um potencial delator. Isso é mostrar, não contar, na sua forma mais pura. Os detalhes nos equipamentos, nos ambientes que vão desde megalópoles cintilantes a bases subterrâneas empoeiradas, demonstram um carinho e uma atenção que me transportaram diretamente para dentro do universo, não como um mero observador, mas como alguém que respira o mesmo ar rarefeito do perigo.
E a conspiração global? Ah, essa é uma teia complexa, cheia de fios que se cruzam e se emaranham, nos levando a questionar a própria natureza do poder, da lealdade e da moralidade. Não é uma história em preto e branco, onde os mocinhos são puros e os vilões são puramente maldosos. Há tons de cinza por toda parte, motivações ambíguas que te fazem pensar: “Será que, na posição deles, eu faria diferente?” É essa profundidade que impede Deathwatch de ser apenas mais uma série de ação e aventura. Ela te provoca, te desafia, te faz sentir o peso das escolhas que esses personagens são forçados a fazer.
No final das contas, Splinter Cell: Deathwatch é uma série que nos lembra por que amamos histórias de espionagem. É a tensão no ar, o sussurro de uma informação vital, a dança mortal nas sombras. É sobre a humanidade que persiste, mesmo quando tudo ao redor tenta desumanizar. Se você, como eu, carregou a tocha da paixão por Sam Fisher e pelo universo de Splinter Cell por todos esses anos, posso dizer que esta adaptação não só faz justiça à lenda, como a expande, a aprofunda e, de alguma forma, a torna ainda mais real. É um convite para você voltar para a escuridão. E aí, tá pronto pra mergulhar de novo?