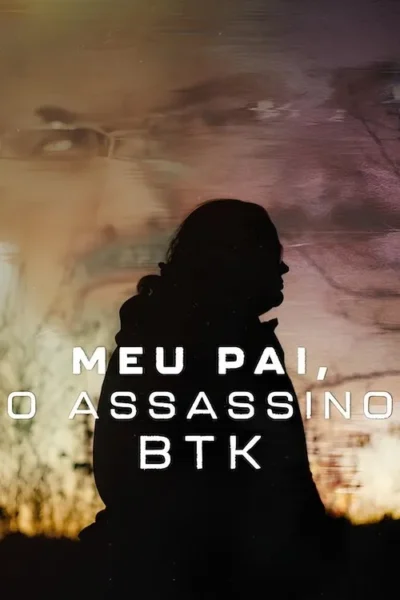Para mim, escrever sobre cinema é, antes de tudo, uma jornada pessoal. É sentar na poltrona escura, deixar a tela te engolir, e depois tentar destrinchar o que aquela experiência fez no seu peito, na sua cabeça. E, olha, quando ouvi falar de A Morte de um Unicórnio, da A24, com Paul Rudd e Jenna Ortega batendo num bicho mítico pra depois explorar suas propriedades restaurativas, eu não pude evitar um sorriso torto. “Tá aí”, pensei, “um prato cheio para a mente, para o riso nervoso e, talvez, para a reflexão mais sombria”. O filme estreou em julho, e cá estamos, em outubro de 2025, com a poeira um pouco mais baixa, mas as perguntas ainda reverberando.
Alex Scharfman, que dirigiu e escreveu, nos joga num road trip que desanda de forma espetacular. Elliot (um Paul Rudd que consegue ser adorável e patético na mesma medida) está levando sua filha, Ridley (Jenna Ortega, com aquela aura de ironia e cansaço adolescente que só ela tem), para uma reunião emergencial com seu chefe bilionário. A relação entre pai e filha já é um campo minado de silêncios e farpas, e você sente o peso dessa distância em cada olhar desviado, em cada resposta monossilábica de Ridley. É o tipo de desconexão familiar que muitos de nós conhecemos bem, a tensão palpável antes mesmo que qualquer criatura mágica entre em cena.
E aí, bum. Um solavanco na estrada, um guincho, e o impossível se materializa: um unicórnio. Não um unicórnio brilhante de contos de fadas, mas um bicho real, ferido, com o sangue manchando o asfalto. É nesse momento que o filme vira a chave e mergulha de cabeça em sua proposta macabra. A descoberta de que o sangue, o corpo e, principalmente, o chifre do animal possuem propriedades milagrosamente restaurativas não é um momento de pura maravilha, mas de uma ganância quase primal. É como se a própria pureza do unicórnio fosse um espelho para a feiura da natureza humana.
A partir daí, A Morte de um Unicórnio se desdobra em uma espécie de fábula distorcida, um conto de fadas às avessas. Os gêneros Terror, Fantasia e Comédia se misturam de um jeito que nem sempre é suave, eu diria. A comédia, muitas vezes, é escuríssima, nascida do absurdo da situação e das reações patéticas dos personagens. O terror não vem de sustos, mas da iminência da depravação, da forma como a busca pela vida eterna ou pela juventude a qualquer custo pode desfigurar a alma.
| Atributo | Detalhe |
|---|---|
| Diretor | Alex Scharfman |
| Roteirista | Alex Scharfman |
| Produtores | Tyler Campellone, Drew P. Houpt, Lars Knudsen, Alex Scharfman, Tim Headington, Theresa Steele Page, Lucas Joaquin |
| Elenco Principal | Paul Rudd, Jenna Ortega, Will Poulter, Richard E. Grant, Téa Leoni |
| Gênero | Terror, Fantasia, Comédia |
| Ano de Lançamento | 2025 |
| Produtoras | A24, Square Peg, Secret Engine, Ley Line Entertainment, Monoceros Media |
Quando Elliot e Ridley chegam à mansão de Odell (um Richard E. Grant deliciosamente excêntrico e repulsivo) e Belinda (Téa Leoni, que traz uma frieza calculista que gela a espinha), o filme realmente mostra suas garras críticas. A trama da família rica que quer explorar o unicórnio é, para alguns, talvez o ponto mais previsível, e até um pouco “chato” no início, como algumas críticas apontaram. E sim, existe um quê de formulaico em como a riqueza e o poder corrompem. Mas, para mim, o filme transcende essa previsibilidade pela forma blunt, quase brutal, com que expõe a sede insaciável dos privilegiados. Eles não estão apenas buscando a cura; estão buscando a imortalidade como um direito adquirido, pisoteando o que for preciso. Ver a pele de Paul Rudd tremer levemente, o suor na testa, enquanto ele tenta negociar a integridade de um unicórnio, e a si mesmo, em meio a essa gente, é de uma beleza tragicômica.
Jenna Ortega, como Ridley, é a bússola moral que se perde e se reencontra no caos. Sua performance é o fio condutor que nos permite sentir a repulsa e a confusão diante da barbárie que se desenrola. Ela é a única que parece ainda se lembrar da magia original, da inocência, antes que a ganância a maculasse. Sua jornada é uma tentativa desesperada de resgatar algo puro, não apenas do unicórnio, mas de seu próprio pai e, talvez, da humanidade.
A direção de Scharfman consegue criar uma atmosfera que, mesmo com os elementos de comédia, nunca deixa de ser inquietante. Há um senso de destino sombrio que paira sobre a narrativa, uma sensação de que cada passo em direção à exploração do unicórnio é um passo para uma moralidade mais turva. Sim, a construção inicial pode parecer um pouco morna, como um banho que você hesita em entrar. Mas quando a temperatura sobe, quando a trama dos bilionários se intensifica, o filme se torna um mergulho gelado, com a água chicoteando o rosto. A cena final, em particular, é um soco no estômago, um desfecho que faz valer a pena a jornada, por mais que ela tenha se arrastado em certos momentos.
No fim das contas, A Morte de um Unicórnio pode não ser o filme mais fácil de amar, nem o mais polido. Não é uma joia lapidada em todas as suas facetas. Mas é um filme que me fez pensar, que me provocou risadas nervosas e que me deixou com um gosto amargo e instrutivo na boca. É uma fábula moderna, uma comédia de humor negro que nos lembra que a verdadeira monstruosidade raramente está no animal fantástico, mas sim na forma como a nossa própria humanidade, quando confrontada com o poder e a promessa da vida eterna, pode se transformar em algo verdadeiramente macabro. E, para mim, isso já é motivo suficiente para vê-lo. Talvez não seja um unicórnio perfeito, mas sua morte é, sem dúvida, digna de ser testemunhada.