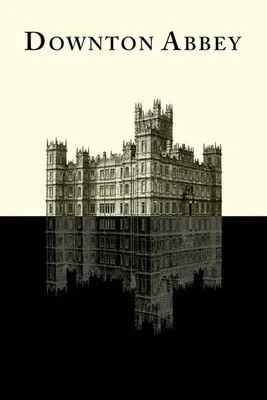É engraçado como certas obras nos marcam, não é? Não digo apenas aquelas que a gente assiste uma vez e gosta, mas aquelas que permanecem, sabe? Aquelas que, mesmo anos depois, têm o poder de nos puxar de volta para seu universo, como se fosse um reencontro com velhos amigos. Hoje, dia 30 de setembro de 2025, faz um bom tempo desde que Downton Abbey estreou lá em 2010, e a verdade é que, vira e mexe, me pego pensando nos Crawley e seus empregados. E o que me motivou a escrever sobre isso agora? Ah, talvez seja a inevitável nostalgia que bate quando percebemos o tempo que passou, ou quem sabe, a simples constatação de que algumas histórias são tão bem contadas que sua relevância simplesmente não envelhece.
Downton Abbey não é só uma série; é um portal. Um portal para uma Inglaterra do início do século XX, um mundo onde a pompa e a circunstância da aristocracia se chocavam com as transformações sociais implacáveis. Julian Fellowes, o criador, tinha uma visão muito clara, e o que ele nos entregou foi uma tapeçaria rica e intrincada de vidas interligadas, separadas por um degrau, mas unidas pela dependência mútua. Nós, como espectadores, somos convidados a esse baile de máscaras, onde cada personagem tem seu papel e cada sala daquela imponente mansão esconde segredos, ambições e, claro, muita fofoca.
Quem poderia esquecer a Duquesa Viúva de Grantham, Violet Crawley? Maggie Smith, minha gente, o que dizer de Maggie Smith? Ela não atuou; ela encarnou Violet. Cada virada de olho, cada frase cortante entregue com aquela precisão cirúrgica que só ela tem, fazia a gente rir alto e, ao mesmo tempo, refletir sobre a rigidez de um mundo que se recusava a mudar. Ela era o epítome de um sistema que teimava em resistir, mas que, sob a superfície de suas tiradas hilárias, já mostrava rachaduras. E era justamente essa ambiguidade que a tornava tão fascinante. Não era uma vilã, nem uma heroína; era uma força da natureza, uma guardiã de um passado que se esvaía.
Mas Downton Abbey nunca foi só sobre a família de cima, né? O coração pulsante da série batia lá embaixo, nas cozinhas, lavanderias e nos quartos dos empregados. Anna e Bates, por exemplo. Um casal que enfrentou mais provações do que muitos protagonistas de dramalhões modernos. A dignidade de Anna (Joanne Froggatt), a sua resiliência diante de adversidades quase insuportáveis, e a lealdade inabalável de Bates (Brendan Coyle) nos faziam torcer, sofrer e suspirar a cada novo obstáculo. E o que dizer da Mrs. Hughes (Phyllis Logan) e do Mr. Carson (Jim Carter)? Eles eram a espinha dorsal de Downton, os guardiões dos valores e da ordem, com um relacionamento que evoluía de uma camaradagem austera para algo mais profundo e terno, mostrando que mesmo nos escalões mais rígidos, o afeto encontrava seu caminho.
| Atributo | Detalhe |
|---|---|
| Criador | Julian Fellowes |
| Elenco Principal | Maggie Smith, Michelle Dockery, Laura Carmichael, Joanne Froggatt, Hugh Bonneville, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Jim Carter, Brendan Coyle, Penelope Wilton |
| Gênero | Drama |
| Ano de Lançamento | 2010 |
| Produtoras | Carnival Films, Masterpiece |
É que a série tinha essa habilidade incrível de nos fazer entender as complexidades do sistema de classes. Não era só uma questão de “ricos e pobres”, mas de um emaranhado de regras não ditas, de honra e de lugar. A ascensão de Cora Crawley (Elizabeth McGovern), uma americana rica que se casa com o Conde de Grantham, Robert Crawley (Hugh Bonneville), já mostrava as sementes da mudança. Ela trazia uma perspectiva nova, menos presa às tradições, e seu marido, um homem de bom coração, tentava equilibrar o amor pela família com o peso de manter um legado que, ele bem sabia, estava com os dias contados.
E as irmãs Crawley? Mary (Michelle Dockery) e Edith (Laura Carmichael)… Ah, a dinâmica entre elas era um drama à parte. Mary, a beleza glacial, a primogênita com a pressão de manter o status da família, e Edith, a irmã do meio, muitas vezes negligenciada, que lutava para encontrar seu próprio valor e voz num mundo que parecia ter esquecido dela. As rusgas, os ciúmes, as mágoas acumuladas entre elas eram tão reais, tão palpáveis, que era impossível não se envolver. E a evolução de Edith, de uma jovem insegura para uma mulher independente e bem-sucedida, é uma das jornadas mais gratificantes de toda a série, não é? A gente vê nela a luta de tantas mulheres daquela época para se libertarem das amarras sociais.
A produção de Downton Abbey, pelas mãos da Carnival Films e Masterpiece, era impecável. Cada detalhe, desde os figurinos suntuosos que pareciam respirar história até a cenografia grandiosa do próprio castelo, transportava a gente para aquele tempo. Não era só um cenário; era um personagem vivo, pulsante, com seus corredores murmurantes e sua imponência silenciosa. O cuidado com a ambientação, a trilha sonora que nos embalava suavemente em cada dilema, tudo contribuía para criar uma experiência imersiva que ia muito além de “apenas assistir TV”.
O que Downton Abbey nos ensina, e talvez seja por isso que ainda ressoa quinze anos depois, é que, não importa o século ou a posição social, as emoções humanas são universais. O amor, a perda, a inveja, a lealdade, a ambição, a fofoca… são fios que tecem a nossa existência, independentemente de estarmos lavando a louça na cozinha ou jantando com a realeza. Ela nos lembra que, sob as vestes da etiqueta e das tradições, somos todos apenas pessoas tentando navegar a vida, com suas alegrias e suas inevitáveis dores. E é essa humanidade, essa capacidade de se conectar com a gente, que faz de Downton Abbey uma daquelas séries que a gente revisita com um sorriso no rosto, e o coração quentinho. Uma verdadeira joia que, eu garanto, vale a pena desenterrar de vez em quando.