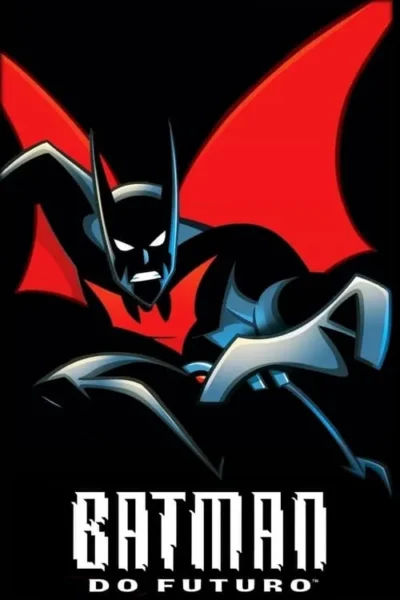Sabe, tem filmes que a gente vê e depois esquece, como um sonho bom ou um pesadelo distante. E tem outros que se cravam na alma, que mudam a maneira como a gente respira o mundo, mesmo anos depois. Para mim, “Hotel Ruanda” é um desses. Em 16 de outubro de 2025, olhando para trás, percebo que essa obra lançada lá em 2004 – e que só chegou por aqui em 19 de agosto de 2005 – não é apenas um filme; é um grito, um lamento e, paradoxalmente, um hino à resiliência humana. É por isso que sinto uma necessidade quase visceral de falar sobre ele, de desenterrar as memórias e as sensações que me provoca.
O que nos atrai a histórias tão dolorosas, tão repletas de uma crueldade quase inimaginável? Talvez seja a busca por entender a capacidade humana tanto para o mal absoluto quanto para a bondade mais pura, que floresce em meio ao caos. “Hotel Ruanda”, dirigido por Terry George e roteirizado por ele junto a Keir Pearson, nos atarraxa a esse precipício. Ele nos joga no coração do conflito ruandês de 1994, quando a tensão entre tutsis e hutus explodiu numa `genocídio` que assombrou o planeta. As `milícias` agiam com uma fúria `agressiva`, e a imagem de corpos sem vida – `dead body`, sim, a verdade é crua – se tornava tristemente comum nas ruas de Kigali.
No centro dessa `atrocidade` `africana` está Paul Rusesabagina, interpretado com uma maestria que, juro, ainda me arrepia, por Don Cheadle. A crítica estava certa: ele é “super” como Paul. Cheadle não atua Paul; ele se torna Paul. A gente vê a transformação de um gerente de hotel belga, acostumado a lidar com uísque e charutos, em um estrategista `desesperado`, mas incrivelmente `comandante`. Ele não empunha armas, mas usa sua inteligência, sua lábia, seus contatos e, acima de tudo, sua humanidade para barganhar vidas. É um balé complexo de medo e coragem, de um homem que, mesmo com as mãos tremendo, encontra forças para proteger sua família – sua esposa Tatiana, vivida com uma força silenciosa e dilacerante por Sophie Okonedo – e mais de mil `refugiados` tutsis e hutus moderados que buscam abrigo em seu hotel, o Hôtel des Mille Collines.
A genialidade do filme reside na sua capacidade de nos colocar dentro daquele hotel. O Milles Collines, que deveria ser um refúgio, torna-se uma prisão, uma bolha de esperança prestes a estourar, cercada por uma `militia` `malicious` e um `foreboding` `ominous` no exterior. A tensão é palpável; a cada batida na porta, a cada ligação telefônica, a gente prende a respiração junto com Paul. Terry George não se vale de sangue e vísceras para chocar (embora o horror esteja sempre presente, nas entrelinhas e nas imagens mais impactantes); ele nos choca com o abandono, com a indiferença `callous` do mundo exterior.
| Atributo | Detalhe |
|---|---|
| Diretor | Terry George |
| Roteiristas | Keir Pearson, Terry George |
| Produtores | A. Kitman Ho, Terry George |
| Elenco Principal | Don Cheadle, Sophie Okonedo, Nick Nolte, Fana Mokoena, Desmond Dube |
| Gênero | Drama, História, Guerra |
| Ano de Lançamento | 2004 |
| Produtoras | United Artists, Miracle Pictures, Seamus, Inside Track, Kiagli Releasing, Mikado Film, Metro-Goldwyn-Mayer, Artisan Entertainment, Lions Gate Films |
E aqui entra um dos pontos mais dolorosos: a inação da `United Nations`. Nick Nolte, como o Coronel Oliver, personifica essa frustração e impotência. Seus olhos cansados, sua postura derrotada, gritam a verdade de que, muitas vezes, as forças de paz são apenas espectadores com as mãos atadas. A cena em que os ocidentais são evacuados, deixando para trás milhares de ruandeses, é um soco no estômago, uma `cautionary` `factual` lembrança de que a humanidade, muitas vezes, falha na hora mais crucial. O filme não pinta a ONU como `antagonistic`, mas sim como uma força `authoritarian` que, apesar das intenções, não consegue deter o `slaughter`.
O elenco secundário é igualmente crucial. Fana Mokoena, como o General Bizimungu, o chefe do exército ruandês, traz uma ambiguidade perturbadora. Ele não é um monstro unidimensional; é um homem de poder, preso em um sistema `aggressively` `angry`, que, em certos momentos, parece ter um resquício de humanidade, mas que, na maioria das vezes, se curva à `cruelty` da situação. Desmond Dube, como Dube, o funcionário do hotel, é o elo com o cotidiano da tragédia, com o medo constante e a lealdade inabalável.
“Hotel Ruanda” não é um filme fácil de assistir. Ele não nos oferece respostas simples ou um final cor-de-rosa. Ele nos confronta com a brutalidade do `genocide`, com a fragilidade da vida, com a força de um homem que, por teimosia, por dignidade, por amor, se recusou a ceder. É uma história de `refugee camp`, de fuga, de perda, mas também de uma sobrevivência milagrosa. Produtoras como United Artists, Metro-Goldwyn-Mayer e Lions Gate Films se uniram para trazer essa história à tela, e sou grato por isso.
Ao fim, o que fica é a reverberação de Paul Rusesabagina, um herói improvável, um homem que nos ensina que, mesmo quando o mundo parece desabar e a `death` paira no ar, há sempre espaço para a compaixão e para a ação, por menor que ela pareça ser. Hotel Ruanda é um lembrete `cautionary` do que somos capazes – tanto do pior quanto do melhor. E é por isso que ele continua a me assombrar, a me inspirar e a me fazer pensar, anos depois de tê-lo visto pela primeira vez. Você já se permitiu essa experiência? Se não, recomendo. Mas esteja avisado: ele vai ficar com você.