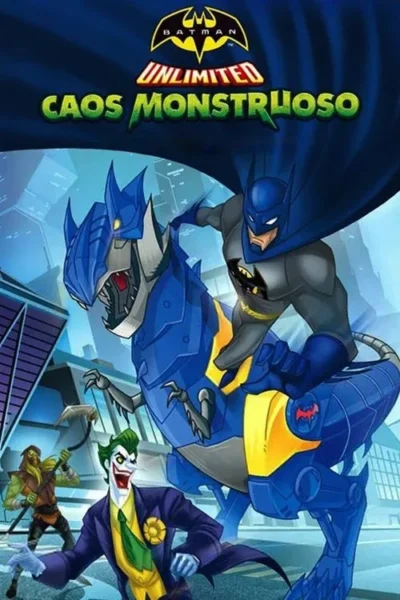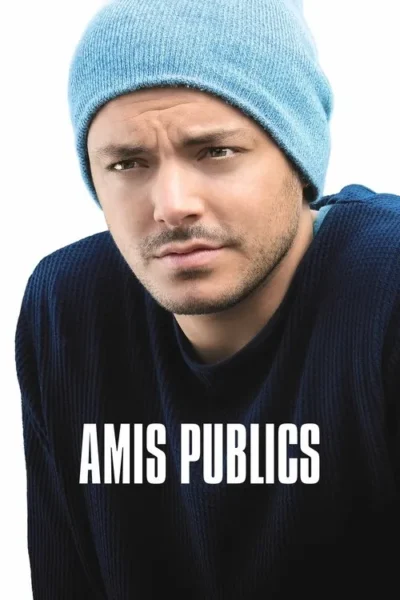Desde que me entendo por gente, sou uma daquelas pessoas que busca na ficção um espelho – torto, às vezes distorcido, mas ainda assim um espelho – para as grandes verdades da vida. E, acredite, há cinco anos, quando Lovecraft Country irrompeu nas nossas telas em 2020, eu senti que encontrei não apenas um espelho, mas um portal, um vórtice para uma conversa que, embora se passasse em 1954, ressoava com uma urgência assustadora. Eu simplesmente precisava falar sobre ela de novo, hoje, em 2025, porque certas obras não perdem o brilho, apenas ganham novas camadas com o tempo.
A série, criada pela mente afiada de Misha Green, joga você em Chicago de 1954, um cenário que, por si só, já carrega um peso histórico imenso. Atticus Turner, um veterano do exército com uma mochila cheia de traumas e uma paixão pela literatura pulp, se vê numa encruzilhada quando seu pai, Montrose, desaparece sem deixar rastros. O que se segue é uma jornada de carro que, de cara, já nos avisa que não será um passeio no parque. Atticus parte com seu tio George, o editor de um guia de viagem seguro para negros em uma América segregada, e Letitia Lewis, uma amiga de infância com ares de estrela de blues e um espírito que não se curva a ninguém. Parece uma sinopse de mistério clássico, certo? Errado. Muito, muito errado.
Aqui é onde Lovecraft Country mostra a que veio, e onde me pegou de jeito. A cada quilômetro percorrido na rota de Atticus, Leti e George, a série tira o tapete da previsibilidade debaixo dos nossos pés. O que começa como uma busca por um pai, mergulha de cabeça em uma tapeçaria onde o horror cósmico de H.P. Lovecraft – criaturas inimagináveis, cultos ancestrais, magia proibida – não é apenas uma ameaça, mas uma metáfora escancarada e visceral para o terror muito real e cotidiano do racismo. Pense naquele nó na garganta que dá quando você percebe que a verdadeira monstruosidade na tela não tem tentáculos, mas um distintivo e um capuz branco. A série não te permite desviar o olhar desse desconforto. Ela te força a confrontar o “Jim Crow” com a mesma intensidade com que te apresenta um Shoggoth à espreita.
Essa mistura de gêneros – Drama, Mistério, Ficção Científica e Fantasia – sob a batuta da Misha Green é o que eleva a série a outro patamar. Não é uma fusão desajeitada; é uma alquimia cuidadosa. Em um episódio, você está testemunhando as agonias de uma família negra navegando por um país que os odeia; no próximo, eles estão fugindo de demônios literais, mas a dor e o medo persistem, independentemente de quem ou o quê os está caçando. A genialidade aqui é que, muitas vezes, os monstros lovecraftianos parecem quase um alívio em comparação com o ódio humano. Isso te faz pensar, não é? Sobre qual horror é realmente o mais profundo.
| Atributo | Detalhe |
|---|---|
| Criadora | Misha Green |
| Produtores | Dana Robin, Christina Varotsis |
| Elenco Principal | Jonathan Majors, Jurnee Smollett, Wunmi Mosaku, Abbey Lee, Michael Kenneth Williams |
| Gênero | Drama, Mistério, Ficção Científica e Fantasia |
| Ano de Lançamento | 2020 |
| Produtoras | Bad Robot, Monkeypaw Productions, Warner Bros. Television |
E o elenco? Ah, o elenco! Jonathan Majors, como Atticus Freeman, carrega o peso do mundo em seus ombros e nos seus olhos. Sua performance é uma aula de contenção e erupção emocional, um homem tentando conciliar o legado da guerra com a luta pela própria sobrevivência e a de sua família. E Jurnee Smollett, como Letitia Lewis, é simplesmente um furacão. Ela é força bruta, vulnerabilidade e uma resiliência de dar inveja. Toda vez que ela aparecia em cena, eu me inclinava um pouco mais para a tela, esperando o que de extraordinário ela faria em seguida. Wunmi Mosaku (Ruby Baptiste) e Abbey Lee (Christina Braithwhite) entregam atuações que são estudos em dualidade, poder e manipulação, enquanto Michael Kenneth Williams, como Montrose Freeman, nos dá um personagem complexo e profundamente falho, mas que se torna o coração pulsante de muita da dor e do amor da história. A contribuição de cada um deles não é apenas a de “interpretar”, mas de encarnar almas que dançam na linha tênue entre o humano e o místico.
A produção, com o selo de qualidade de Bad Robot e Monkeypaw Productions (não é pouca coisa, né?), juntamente com a Warner Bros. Television, é um espetáculo visual. Os cenários são ricos, a fotografia é de tirar o fôlego, e os efeitos especiais, quando aparecem, são impactantes e servem à história, e não o contrário. Dana Robin e Christina Varotsis, como produtoras, junto de Misha Green, orquestraram uma visão que é ambiciosa e corajosa, recusando-se a recuar diante do que é difícil de se ver.
Lovecraft Country não foi feita para ser confortável. Ela é como um soco no estômago, um grito primal que ecoa por gerações. Ela nos lembra que o horror, em suas formas mais perversas, muitas vezes não está escondido em dimensões paralelas ou em tomos antigos, mas sim na história que contamos a nós mesmos, nos preconceitos que carregamos e nas estruturas que aceitamos. Em 2020, ela foi uma revelação; em 2025, ela continua sendo um chamado. Um chamado para olhar para o passado, para entender o presente, e talvez, quem sabe, encontrar alguma magia (e muita coragem) para moldar um futuro diferente. Se você ainda não embarcou nessa viagem, ou se já embarcou e esqueceu, eu te convido a revisitá-la. Tenho certeza que ela ainda tem algo a te dizer.