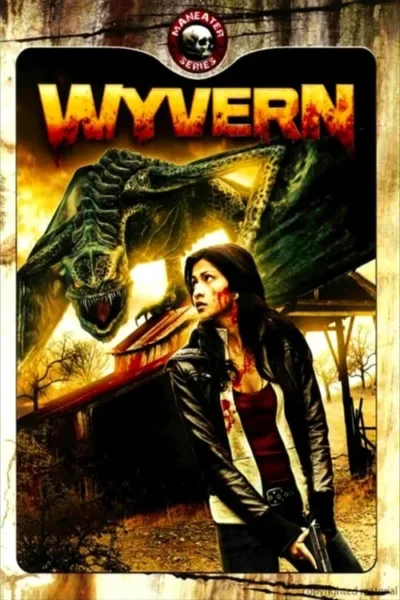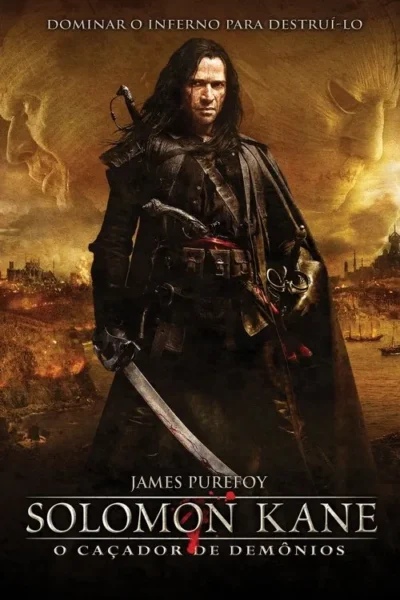Ah, Último Tango em Paris. Confesso que, mesmo depois de tantos anos, a simples menção desse título ainda me causa um arrepio na espinha, uma mistura de fascínio e desconforto que pouquíssimos filmes conseguem evocar. Por que diabos eu sinto a necessidade de revisitar essa obra hoje, em pleno 2025? Talvez seja porque, como as velhas feridas que nunca cicatrizam de verdade, alguns filmes se recusam a ser esquecidos. Eles pulsam na nossa memória, desafiando-nos a questionar o que entendemos por arte, por limite, por humanidade. E “Último Tango”, dirigido pelo audacioso Bernardo Bertolucci em 1972, é, sem dúvida, uma dessas feridas abertas, um grito primal que ainda ecoa nos corredores da história do cinema.
Imagine Paris. Não a Paris dos cartões-postais, dos casais apaixonados sob a Torre Eiffel. Não, essa é uma Paris cinzenta, úmida, onde o tempo parece ter congelado em um inverno existencial. É nessa paisagem que somos atirados, quase sem aviso, para o encontro improvável entre dois estranhos que, de alguma forma, estavam destinados a se destruir mutuamente. De um lado, Paul (Marlon Brando), um americano de meia-idade, dilacerado pela perda recente da esposa, cujo suicídio o deixou em um vácuo de dor e desespero. Do outro, Jeanne (Maria Schneider), uma jovem parisiense, espirituosa, mas com uma curiosidade quase ingênua sobre os abismos da vida, às vésperas de se casar com um cineasta que parece mais preocupado em filmar sua vida do que em vivê-la.
O cenário desse primeiro encontro é um apartamento vazio, desabitado, quase simbólico da vacuidade que os cerca. E ali, naquelas paredes frias e ecoantes, nasce não um romance, mas um pacto. Um acordo tácito, brutal e honesto: sexo puro, sem nomes, sem passado, sem futuro. Apenas o agora, a carne, o impulso. Paul busca ali uma forma animalesca de exorcizar a dor, de sentir algo que não seja a paralisia do luto. Jeanne, por sua vez, parece atraída pela vertigem do proibido, pela chance de se perder e, talvez, de se encontrar em um lugar onde as regras da sociedade não se aplicam. É um caso extraconjugal que transcende a mera infidelidade; é uma exploração clandestina da psique humana em seus estados mais crus.
Brando, meu Deus, Brando. O que dizer de sua performance como Paul? Ele não atua; ele é Paul. Cada ruga em seu rosto, cada olhar vazio, cada movimento de seu corpo pesado e cansado grita a agonia de um homem à beira do abismo. Ele está quebrado, exposto, e sua vulnerabilidade é tão palpável quanto a fúria que o consome. E Maria Schneider, então com apenas 19 anos, segura o pique ao lado desse gigante. A química entre os dois é elétrica, perturbadora. Jeanne começa curiosa, quase brincalhona, mas gradativamente é engolida pela intensidade de Paul, pelos jogos de poder que ele impõe, pela crueza de uma relação que se recusa a ser amor, mas que demanda tudo de seus participantes. Você consegue sentir a tensão crescendo, a fuga se transformando em uma armadilha sem saída.
| Atributo | Detalhe |
|---|---|
| Diretor | Bernardo Bertolucci |
| Roteiristas | Bernardo Bertolucci, Franco Arcalli |
| Produtor | Alberto Grimaldi |
| Elenco Principal | Marlon Brando, Maria Schneider, Maria Michi, Giovanna Galletti, Gitt Magrini |
| Gênero | Drama, Romance |
| Ano de Lançamento | 1972 |
| Produtoras | Les Productions Artistes Associés, PEA |
E é aí que chegamos ao ponto nevrálgico, àquela cena que marcou o filme e gerou debates acalorados por décadas. A infame cena da manteiga. Sem mergulhar nos detalhes gráficos, o que nos confronta ali não é apenas a violência física, mas a violência psicológica, a quebra de qualquer simulacro de consentimento, a imposição de um desejo que beira o desumano. Bertolucci e seus roteiristas, Bernardo Bertolucci e Franco Arcalli, parecem querer empurrar o espectador para o limite, para a borda do que é aceitável, questionando os limites da intimidade e da exploração. E, anos depois, com as revelações de Maria Schneider sobre o trauma que a cena lhe causou fora das telas, a arte e a vida se entrelaçam de uma forma dolorosa e irresolúvel. É impossível olhar para o filme hoje sem carregar o peso dessa informação, sem se perguntar sobre o custo humano de certas buscas artísticas.
“Último Tango” é um drama, sim, dos mais intensos e psicológicos que já vi. É um romance torto, onde o amor é um luxo que nenhum dos dois consegue pagar, substituído por uma necessidade animal de conexão. Mas é, acima de tudo, um espelho. Um espelho que Bertolucci (com Alberto Grimaldi na produção) nos coloca à frente, forçando-nos a olhar para as nossas próprias sombras, para os cantos mais escuros do desejo, da tragédia, das relações humanas. As produtoras Les Productions Artistes Associés e PEA nos entregaram, em 1972, não um filme fácil, mas um filme essencialmente parisiense em seu existencialismo sombrio, que se recusa a oferecer respostas, preferindo apenas levantar perguntas.
É um filme que nos lembra que Paris pode ser a cidade do amor, mas também é a cidade onde a solidão pode ser mais pungente, onde o anonimato permite que os piores impulsos floresçam. E, enquanto os créditos sobem e o silêncio preenche a sala, você se pega questionando: o que é essa necessidade incontrolável que nos leva a cruzar limites, a buscar o outro em sua forma mais crua, mesmo que isso signifique se perder por completo? Último Tango em Paris não é para ser compreendido de forma linear, mas para ser sentido, digerido e, quem sabe, para nos assombrar por muito e muito tempo. E talvez seja exatamente por isso que ele é, para o bem e para o mal, inesquecível.